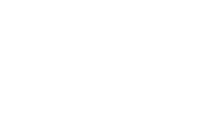Yorgos Lanthimos parece ter incorporado com gosto a condição de maldito — ainda que seus filmes arrastem multidões aos cinemas, não se cansem de acumular prêmios e fiquem, para muito além do calor dos holofotes, na cabeça do público. A experiência se repete em “Pobres Criaturas”, uma exageração proposital dos mal-estares da humanidade na pele de uma das manifestações de vida do título, em que o diretor assenta suas frustrações, suas ojerizas, seus desejos mais obscuros e suas esperanças, sublinhando sua premência de descobrir um mundo que não conhecia, mas que parecia esperar por ela.
O roteiro de Tony McNamara, uma livre adaptação do romance de ficção científica do britânico Alasdair Gray (1934-2019), publicado em 1992, concentra num Frankenstein de saia os mistérios de um corpo à primeira vista sem alma, que vai se percebendo capaz de fazer escolhas, e mais, de transformar essas escolhas em sensações inauditas, prazerosas, que pavimentam seu caminho para a metamorfose que não conseguira realizar.
Lanthimos vai deslindando as tantas minudências do texto de Gray e McNamara com assombrosa fluidez, e quando menos esperamos, aquele monstro torna-se o que é, uma mulher autoconfiante, autossuficiente, que rompe a bolha do tirano destino que haviam lhe preparado.
Na Londres vitoriana, uma mulher grávida se joga da Ponte da Torre, sendo resgatada já morta minutos depois. O cirurgião Godwin Baxter, seu salvador malogrado, é um homem repulsivo, tem o rosto cheio de cicatrizes sobre cuja origem o diretor especula à medida que a história toma corpo, mora num palacete meio kitsch em Trafalgar Square, e quando não está dando aulas de anatomia na universidade da capital da Inglaterra, diverte-se com seu hobby predileto: cruzar espécies diferentes e inventar novos seres, que se espalham pela casa como se num Éden gótico.
Logo fica óbvia a metáfora, uma vez que o personagem de Willem Dafoe é chamado sempre apenas pela primeira sílaba — a boutade perde muito da força quando vertida para o português, lamentavelmente — e God brinca de Deus também com aquela infeliz, transplantando o cérebro do bebê, que sobrevive, no crânio da mãe defunta. Bella Baxter é uma criança em tenra idade cujo intelecto se desenvolve no corpo de uma mulher feita, com seios e pelos pubianos que aparecem com frequência algo incômoda (já chego a esse ponto). São cada vez mais numerosas as referências ao monstro nascido da pena de Mary Shelley (1797-1851), releitura de um clássico da mitologia grega — delirante, perturbador e filosoficamente refinado —, com o qual a autora perpassa a fragilidade humana. Entretanto, a evidente associação do Prometeu shelleyano a God, e não a Bella, desvela um preconceito que se mostra justificado, embora Dafoe empreste a seu desditoso antagonista a sofisticação que caracteriza seu trabalho.
God é um gênio, um sujeito refinado, culto, doce até, mas não controla a obsessão por perfeccionismo que degringola no parto de Bella, o que poderia remeter a outro clássico da cultura pop, não tivesse muito claro que a garota é para ele uma filha, não uma aspiração romântica, a exemplo do que acontece em, claro, “A Bela e a Fera” (1740), a apropriação do conto de Gabrielle-Suzanne Barbot (1695-1755), já enxertado de modernices pouco tempo depois de sair do prelo, ainda na primeira metade do século 17, por Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, em 1756. Esse papel é assumido por alguém de sua confiança, outro homem que se aproxima de Bella por motivos estritamente pragmáticos, mas que leva uma rasteira do destino.
Max McCandles, o assistente de God vivido por Ramy Youssef, passa a frequentar a residência do mestre para concluir uma tese sobre o que hoje se conhece por transgenia… e se apaixona por Bella. Pragmático até a medula, God nota essa afinidade anômala do discípulo pela filha torta — num monólogo breve e certeiro, Dafoe oferece ao público a síntese de seu personagem, que apesar de nunca ter sido objeto da concupiscência de ninguém, “conhece o amor empiricamente, por observação” —, sabe que sua criação há de substituí-lo como razão de seus afetos e dá o beneplácito, uma vez que McCandles gosta mesmo dela e partilha de suas ambições. Os dois só não contavam que um tal de Duncan Wedderburn entrasse na história, e que Bella, mais e mais dona de si, resolvesse fugir com ele, novamente com o consentimento de God e a resignação mortificada do futuro noivo.
Emma Stone desabrocha em cenas memoráveis, ladeada por um Mark Ruffalo irregular, mas assertivo. Nessa segunda metade do filme, a ideia do renascimento de Bella ganha ainda mais força na proporção em que a anti-heroína de Stone se reconhece uma cínica de primeira, descobrindo a volúpia masculina por sua beleza exótica, identificando seus próprios apetites, e, o principal, gostando disso. Há, sim, um abuso da nudez da estrela, mormente nas sequências em que Bella vai parar num prostíbulo de Paris, quando da falência de Wedderburn por um motivo tragicômico, explorado com parcimônia por Lanthimos. Antes, sua incursão por Lisboa regala a audiência com um espetáculo visual raramente visto no cinema, sobretudo de uns tempos para cá.
Sem dúvida, é na capital portuguesa, ao som de um fado de Carminho, que se encontra consigo mesma, sabe-se um indivíduo, dotado de vontades e poderes, não a eterna cobaia de God e seu amor insano. Essa ambição se concretiza no desfecho, momento em que, senhora de sua vida e das propriedades do pai morto, tem os homens literalmente a seus pés. E a cabeça livre para sonhos ainda mais altos.
Filme: Pobres Criaturas
Direção: 2023
Ano: Yorgos Lanthimos
Gêneros: Comédia/Drama/Ficção científica/Romance
Nota: 9/10