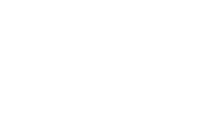Depois de um ano marcado por polêmicas em torno de rankings de comidas, como o caso do cuscuz paulista pontado como o pior prato do país, as culinárias italiana, japonesa e grega acabaram listadas como as melhores do mundo pelo site Taste Atlas (o Brasil ficou em 12º).
Apesar da grande atenção dada a esse tipo de lista na internet, pode-se argumentar que toda a ideia de uma comida típica é uma fantasia.
“Quanto mais pesquiso a relação entre nações e comidas, mais essa ideia parece artificial”, afirma a escritora russo-americana Anya von Bremzen, em entrevista à Folha. Apesar do que chama de compulsão das pessoas em vincular cada comida a seu lugar, essa conexão tem mais a ver com mito e marketing do que com fatos históricos, diz.
Autora do livro “National Dish” (ed. Penguin Press; 352 págs.; 2023), ou prato nacional, ela viajou por seis países em busca das histórias das suas comidas mais típicas.
A obra, ainda sem versão em português, aponta que a maioria desses pratos nacionais é recente e promovida na tentativa de reforçar uma identidade nacional. É o caso da pizza na Itália, do rámen no Japão e mesmo da feijoada no Brasil.
“Como símbolo nacional, a comida carrega a carga emocional de uma bandeira e de um hino, aquelas tradições inventadas, cruciais para construir e sustentar uma nação e suas raízes históricas”, diz. Entretanto, esses pratos são “impulsionados por forças comerciais, campanhas de marca-país e ideias neoliberais”.
A chave da questão, segundo Bremzen, vem do estudo sobre a própria ideia de construção de nação e nacionalismos a partir de estudos consagrados de acadêmicos como Benedict Anderson (1936-2015) e Eric Hobsbawm (1917-2012).
“As pessoas tendem a projetar nossa ideia moderna de uma nação com fronteiras e Estados para uma época em que isso não existia. A realidade era muito diferente em países como Itália e França, mesmo nos séculos 18 e 19”, diz.
Este processo se acelerou ainda mais no fim dos anos 1980, quando diferentes países viram na defesa das suas tradições (inventadas) uma forma de ganhar poder econômico por mecanismos de proteção. “Tratava-se de defender bens culturais, seu valor econômico e de colocar um selo que diz ‘isto é nosso’”, diz.
Em sua pesquisa, Bremzen foi a Paris, Nápoles, Tóquio, Sevilha, Oaxaca (no México) e Istambul, comeu comidas locais, entrevistou chefs e acadêmicos e mergulhou em uma busca pela história das receitas.
O livro funciona como um interessante diário de viagem em torno de pratos como pizza, rámen, tapa e mezze. Cada prato é desmistificado, apontando sua origem e como foi usado nesse processo de reforçar a identidade nacional.
Além disso, ela também se debruça sobre a importância do símbolo gastronômico em momentos de conflito. O último capítulo do livro aborda a disputa entre Rússia e Ucrânia pela bandeira do borsch, sopa de carne e legumes como beterraba. Desde o início da guerra, o Kremlin promove a ideia de que o prato tem origem russa, enquanto a Unesco o reconhece como ucraniano.
Mesmo sem incluir o Brasil em seu estudo, Bremzen conta que veio várias vezes ao país e comeu feijoada pela primeira vez no Copacabana Palace nos anos 1980. Para ela, o prato nacional brasileiro também é uma construção.
“A feijoada é um caso realmente interessante, promovida no início do século 20 na tentativa de criar um símbolo do Brasil. Era apenas um prato básico de feijão que existia no imaginário popular e, com a ajuda de elites românticas pós-coloniais, foi transformado em símbolo nacional.”
Apesar de sua pesquisa desconstruir esses símbolos, Bremzen diz que rituais têm seu valor. “Algo pode ser uma tradição inventada, mas criar raízes e se tornar parte da celebração nacional e parte de uma espécie de consumo ritualista. É um processo fluido, de criação de identidades, de marcas, de cozinhas”, diz.
Por mais que chame a ideia de autenticidade na busca pelos pratos tradicionais apenas de ferramenta de marketing, ela diz acreditar que vale a pena viajar buscando conhecer comidas —mas que não é necessário se apegar à ideia das raízes históricas e intocáveis.
“A internet está transformando a comida em algo completamente transnacional. Há uma grande fluidez. Podemos comer qualquer coisa em qualquer lugar”.
Essa fluidez, explica, é positiva e pode levar a misturas entre as culturas gastronômicas que rompem as regras e levam à popularidade de pratos como o estrogonofe no Brasil, rámen no México e outras comidas que podem ser criticadas como “bastardos” dos pratos originais.
“Misturar culturas é parte natural do processo. Falar sobre apropriação cultural quando tratamos de comidas é vazio. Precisamos falar sobre injustiças raciais, de classe e desequilíbrios de poder, mas não em torno de uma discussão sobre ‘quem roubou o espaguete de quem’”, diz.